Ciência em
Marx e Engels
Materialismo
histórico, experimentação e produção científica
Introdução
Marx e
Engels analisaram a realidade como um todo estruturado em movimento, considerando
que nenhum ser humano está fora da cadeia de relações sociais. Conforme já apontavam
na obra A ideologia alemã (2007), todos os seres humanos
desenvolvem interpretações acerca do mundo, estabelecendo formas de compreensão
e explicação da realidade social, com isso se tornam sujeitos conscientes na
transformação da natureza de acordo com suas próprias necessidades. No trabalho
Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia
clássica alemã, Engels denotava que:
(...) de modo algum se pode evitar que
tudo quanto move o homem deva, necessariamente, passar-lhe pelo cérebro: até o
comer e o beber, processos que começam pela sensação de fome e sede, sentida
com o cérebro, e terminam na sensação de saciedade, também sentida com o
cérebro. As impressões que o mundo exterior produz sobre o homem exprimem-se no
seu cérebro. Nele se refletem sobre a forma de sentimentos, de pensamentos, de
impulsos, de atos de vontade; numa palavra, de “correntes ideais”
convertendo-se sob essa forma em “fatores ideais”. (ENGELS, 1974, p. 57-58).
De
acordo com tal perspectiva: “(...) O ser humano é o único animal capaz de sair
por esforço próprio da condição meramente animal – sua condição normal é
condição adequada à sua consciência, a
ser criada por ele mesmo”. (ENGELS, 2020, p. 35). A humanidade
constrói sua própria cultura no processo histórico de intercâmbio com a natureza.
Nesse sentido, segundo o autor: “(...) justamente a mudança da natureza pelo ser humano, e não só a natureza como tal,
é o fundamento mais essencial e mais imediato do pensamento humano, e a
inteligência do ser humano cresceu na mesma proporção em que ele aprendeu a
modificar a natureza. (...). (Idem, p. 133).
Marx,
em sua tese de doutorado intitulada Diferença
entre a filosofia da natureza de Demócrito e a de Epicuro (2018), já havia
chegado à conclusão de que era conhecendo a natureza que os seres humanos
desmistificavam seus fenômenos e superavam a insegurança em relação a essa. Com
isso, ao mesmo tempo, ampliavam sua cognoscibilidade sobre a natureza. Isso
porque a ação de desvelamento e compreensão da natureza transverte-se como
possibilidade de conhecer o mundo e a si mesmo, elevando-se a possibilidade de
elaboração intelectual de concepções e conceitos sobre o mundo. Desta forma, o
que antes era medo em relação à natureza incognoscível, tornava-se vontade e capacidade
de conhecer mais. Isso faz do ser humano um sujeito ativo na natureza. Assim, todo
o mundo exterior ao sujeito é compreendido como base de todo pensamento e ação.
(MARX, 2018: MOURA, 2016: 2022).
Assim sendo, a sociedade é
compreendida como fruto da atividade humana concreta, como síntese
contraditória da construção cotidiana mediada pela atividade material diária
dos seres humanos em constante interação. Para Marx, conforme afirmou na 3ª
tese ad Feuerbach, os seres humanos,
embora sejam fruto do meio que vivem, são também os mesmos que modificam este
meio, constroem-no ativamente de acordo com suas necessidades. (MARX, 2007). A
partir de tal perspectiva, a forma de estudo, análise e compreensão científica
da realidade sustenta-se sobre a centralidade da atividade prática de
estruturação e reestruturação do real, que fundamenta a compreensão crítica-prática.
Nessa base de metodológica, as condições sociais e materiais da sociedade devem
ser compreendidas como um processo infinito, no qual se plasmam modificações
constantes.
Segundo tal perspectiva,
analisando as problemáticas sociais e chegando-se a determinadas conclusões, é
possível avançar até a raiz das determinações dos objetos em foco,
compreendendo as formas de negação e afirmação das tendências presentes em seu
desenvolvimento ao longo do tempo, expressos como problemas ou contradições da
realidade social. O mundo social: “tem de ser tanto compreendido em sua
contradição quanto revolucionado na prática”. (MARX, 2007, Tese 4, p. 534).
Para Marx, a realidade social humana não está dada a priori como apreensão abstrata independente, como um modelo
próprio individualizado, para o autor: “a realidade é o conjunto das relações
sociais” das ações dos indivíduos. Em tal diapasão, todas as determinações
sociais são pertencentes ao movimento da totalidade concreta, e assim, de
interação entre os seres humanos em sua busca constante por manter e reproduzir
sua existência. Na concepção de Marx: “Toda a vida social é
essencialmente prática. Todos os
mistérios que conduzem a teoria ao misticismo encontram sua solução racional na
prática humana e na compreensão desta prática”. (MARX, 2007, p. 534).
Foi a
necessidade histórica de elaboração sobre a realidade material, sobre o vivido
e as condições de existência, que produziram as bases para o desenvolvimento da
ciência. Ao longo da história, grupos sociais especializaram-se no campo das
experimentações e investigações científicas, articulando fundamentos,
materiais, hipóteses, resultados e conclusões de suas pesquisas ao conhecimento
científico já sintetizado. Ainda, criaram condições educacionais que
possibilitaram que tais acúmulos especializados fossem transmitidos de geração
para geração por meio da educação institucionalizada. (MOURA, 2022). Nesse
sentido, o próprio cientista é formado a partir da interação com determinadas
visões de sociedade e de classe, é educado em escolas e universidades com
determinada linha de pensamento e "visão de mundo". Notadamente, os
profissionais da ciência, no seu "fazer científico", interagem e
intercambiam com instituições do Estado, centros de pesquisa, universidades e agências
de fomento públicas e privadas. Desta forma, na concepção marxista, o
cientista jamais poderá ser neutro. Pelo contrário, como apontou Gramsci, a
produção científica está sempre ligada aos grupos sociais e de interesses:
Todo grupo
social, nascendo no terreno originário de uma função essencial no mundo da
produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, organicamente, uma ou mais
camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da própria
função, não apenas no campo econômico, mas também no social e político: o
empresário capitalista cria consigo o técnico da indústria, o cientista da
economia política, o organizador de uma nova cultura, de novo direito, etc.
(GRAMSCI, 2004, cad. 12, p. 15).
Esse
princípio, naturalmente, compreende a produção científica e a própria vida dos
cientistas que integram a totalidade social composta de sínteses de múltiplas
determinações, englobando as relações econômicas, sociais e políticas.
A ciência em ascensão
Conforme
apontado, toda experiência humana com a natureza, na busca pela manutenção de
sua própria existência, compõe o saber humano sócio-histórico. A humanidade
dedicou milhares de anos de sua existência para elaborar conhecimentos sobre a
realidade a sua volta, só com isso pôde edificar, durante a Antiguidade, as
chamadas sociedades antigas do Oriente (sobretudo Mesopotâmia, Egito, Kush,
Índia e China), mas também as sociedades ameríndias e a sociedade europeia.
Como destacou Engels: “(...) A Antiguidade deixara como legado Euclides e o
sistema solar ptolemaico; os árabes, a notação decimal, os rudimentos da
álgebra, os números modernos e a alquimia (...)”. (ENGELS, 2020, p. 40). Nesse
sentido, o fazer científico é fruto da produção e reprodução da vida,
afirmando-se como observação e experimentação cuidadosa, sistemática e
sistematizada. Para Engels, “o fim de toda ciência” é “investigar justamente o
que não conhecemos”. (2020, p. 128). Deste ponto de vista, cada nova geração
pode acrescentar novas camadas de conhecimentos na compreensão sobre a
realidade. Na perspectiva do autor:
O pensamento teórico de cada época e,
portanto, também o da nossa é um produto histórico que, em diferentes épocas,
assume formas muito diferentes e, desse modo, conteúdos muitos diferentes. A
ciência do pensar é, portanto, como qualquer outra, uma ciência histórica, a
ciência do desenvolvimento histórico do pensamento humano. (ENGELS, 2020, p.
76).
Mesmo
considerando tais aspectos históricos da produção do conhecimento, Engels na
introdução da Dialética da natureza (livro
inacabado)[2],
destacou que as investigações científicas experimentaram grandes avanços durante
o século XV. Com a crise de dominação exercida pela Igreja e as monarquias feudais
europeias, abriu-se uma nova fase de desvelamento do mundo por fora dos dogmas
religiosos, marcada pela crítica ao teocentrismo, dando espaço para o
desabrochar do antropocentrismo que compôs o renascimento humanista. Engels apontou
que aquela nascente burguesia travou longas batalhas para separar a ciência dos
credos religiosos e dos domínios morais e intelectuais da Igreja. (ENGELS,
2020).
As grandes navegações, marcadas
pela busca de novos domínios e riquezas, com uma corrida de velocidades entre
os diferentes países, acabou por demandar o desenvolvimento de novas técnicas científicas
e produtivas. Muitos se aventuravam pelos campos das investigações buscando
formas de compreender e de desvendar os motivos da existência humana, sua
evolução e as determinações da natureza. Entre estes, Engels destacou: Da
Vince, Durero, Mantelembert, Maquiavel, Lutero, Giordano Bruno, Galileu,
Calvino etc. Segundo a perspectiva de Engels:
Foi a maior revolução progressista já
vivida pela humanidade até então, uma era que precisou de gigantes e
gerou gigantes, gigantes na capacidade de pensar, na paixão e no
caráter, gigantes em versatilidade e erudição. Os homens que fundaram
o moderno domínio da burguesia eram tudo menos burgueses tacanhos. Ao
contrário, o caráter aventureiro da época os bafejou em maior ou menor
medida. Naquela época, não houve praticamente nenhum homem importante que
não tivesse feito longas viagens, que não falasse quatro ou cinco idiomas,
que não brilhasse em várias especialidades. Leonardo da Vinci foi não só
um grande pintor mas também um grande matemático, um grande mecânico e um
grande engenheiro, ao qual os mais diversos ramos da física
devem importantes descobertas; Albrecht Dürer foi pintor, calcogravurista, escultor,
arquiteto, e ainda inventou um sistema de fortificação cujas ideias foram
retomadas muito tempo depois por [Marc-René de] Montalembert e pela
fortificação alemã mais recente. Maquiavel foi estadista, historiador,
poeta e, ao mesmo tempo, o primeiro escritor militar digno de menção da época
mais recente. Lutero lavou o estábulo de Áugias não só da Igreja mas
também da língua alemã, criou a prosa alemã moderna e compôs texto e
melodia daquele coral convicto da vitória que se tornou a Marselhesa do
século XVI. (...). (ENGELS, 2020, pp.38-39).
Com tudo isso, o continente
europeu se fez um importante centro de efervescência, produção e sintetização
no campo do conhecimento e das descobertas científicas. De acordo com Engels, o
primeiro grande impulso científico deu-se ainda no campo das ciências naturais. Os conhecimentos desenvolvidos nesse campo serviram também
como base de reflexão para a filosofia, remontada na tradição de Heráclito,
Sócrates, Platão, Aristóteles, Demócrito e Epicuro. (ENGELS, 2020).
Tal contexto
impulsionou novas investigações e descobertas que fizeram com que o
conhecimento humano sobre o mundo avançasse incorporando acúmulos e elementos
de sínteses refinadas tomadas da observação e experimentação, que, por sua vez,
eram condensavas nos debates teórico-filosóficos. Nesse sentido, Engels reafirma
a centralidade das bases materiais na produção da ciência, como substrato para
interpretação do movimento concreto em infinitas transformações:
(...) Entrementes, todos concordamos que,
no campo científico como um todo, seja na natureza, seja na história, se deve
partir dos fatos dados, ou seja, na ciência natural, das diferentes formas
concretas e das formas de movimento da matéria; e que, portanto, também na
ciência natural teórica, os nexos não devem ser formulados e introduzidos nos
fatos, mas devem ser descobertos a partir deles e, quando descobertos, devem
ser demonstrados pela experiência, na medida do possível. (ENGELS, 2020, p.
80).
Engels destaca que o próprio
método dialético, desenvolvido por Aristóteles, Hegel e Marx, é uma forma de
abstração derivada da realidade. Trata-se de uma forma de se partir do concreto
real para o concreto pensado. Para o autor: “(...) é da história da natureza e
da história da sociedade humana que são abstraídas as leis da dialética. Estas
são apenas as leis mais gerais dessas duas fases do desenvolvimento histórico,
como do próprio pensamento. (...). (ENGELS, 2020, p. 111). Ou seja, foi a
partir do movimento do real, da totalidade concreta da natureza em suas
múltiplas determinações, que se derivou, como abstração, os princípios ou as
“leis da dialética”, que são: 1) A lei da conversão de quantidade em qualidade
e vice-versa. 2) A lei da interpenetração dos opostos, e 3) A lei da negação da
negação. (ENGELS, 2020, p. 111).
A análise científica das relações de produção e a
centralidade da classe trabalhadora
Já na
primeira metade do século XIX, Marx e Engels concentraram suas energias na
elaboração de análises sobre a realidade social vivida pela classe
trabalhadora. Esses dois teóricos revolucionários buscaram explicações causais
para compreensão da estruturação da realidade social, tanto da ascensão e
consolidação da dominação burguesa como do surgimento da classe trabalhadora como
maioria social expropriada de meios de produção. Apontam que a burguesia em sua
fase revolucionária, apoiando-se em concepções científicas sobre o mundo,
rasgou o véu da dominação da Igreja e das monarquias. No Manifesto do Partido Comunista, os
autores lançam célebres definições:
A burguesia
revelou como a brutal manifestação de força na Idade Média, tão admirada pela
reação, encontra seu complemento natural na ociosidade mais completa. Foi a
primeira a provar o que a atividade humana pode realizar: criou maravilhas
maiores que as pirâmides do Egito, os aquedutos romanos, as catedrais góticas;
conduziu expedições que empanaram mesmo antigas invasões e as cruzadas. (MARX:
ENGELS, 2005, p. 42-43).
Foi por
meio da análise concreta da realidade social e política, considerando as formas
de existência das classes sociais, do Estado e suas instituições, que Marx e
Engels sintetizaram importantes conclusões científicas publicizadas amplamente
no Manifesto do Partido Comunista
(MARX: ENGELS, 2005), no qual se definia que:
1) Para
suplantar o feudalismo e estabelecer sua hegemonia social e política, a burguesia
foi uma classe revolucionária.
2) O
capitalismo inaugurou uma nova época com uma nova ordem social marcada por
novas disputas sociais e políticas. Concentraram-se meios de produção nas mãos
da burguesa ascendente, apartou-se os trabalhadores do uso das terras, meios de
produção e demais formas de autorreprodução da vida. Despossuída de meios de
produção, a massa de camponeses, viu-se obrigada a se concentrar nos centros
urbanos em busca de trabalho, passando a viver em regiões proletárias e cidades
industriais.
3) A
burguesia não pôde controlar todas as tendências econômicas e políticas que se
desenvolvem sob seu domínio. Os trabalhadores e trabalhadoras se auto-organizam
a partir de seus próprios interesses e passam a lutar organizados contra a burguesia:
destruíram máquinas, fizeram greves, piquetes, ocupações, criaram sindicatos,
ligas revolucionárias e partidos políticos.
4) As
crises econômicas, ancoradas em crises produtivas, desdobram-se em crises
políticas e sociais. Em meio às disputas intraburguesas, desigualdade nas formas
de condições de vida e na distribuição dos frutos do trabalho, emergiu o
proletariado como um novo sujeito político independente.
5) As
frações da burguesia disputavam o apoio do proletariado para seus próprios
empreendimentos e usaram a força do proletariado em proveito próprio. No
entanto, o proletariado mantinha condições sociais e políticas de se organizar
e de seguir politicamente separado da burguesia. Ainda, para se emancipar política
e socialmente, a classe trabalhadora, como maioria social, organizadora e
produtora da vida material, sendo sujeito independente, necessita derrotar a
forma social de organização da produção imposta pelas necessidades da
burguesia.
6) A
classe trabalhadora, como maioria social e produtora de valor, é o único
sujeito revolucionário capaz de implantar uma nova sociedade. Isso porque: a)
está concentrada nos pontos centrais do sistema capitalista; b) por sua posição
na sociedade capitalista adquiriu capacidade de organização e planificação da
produção; c) tem homogeneidade de condições de vida; d) condensa potencial político
de submeter todas as outras classes sociais; e) Está impossibilitada de criar
um modo individual de apropriação dos frutos do trabalho; f) é uma classe
internacional.
Após a
derrota da Primavera dos Povos em 1848, Marx adentrou em uma nova fase de
investigação e produção científica durante a década de 1850. (MANDEL, 1968:
RUBIN, 2013). Partindo de seus estudos sobre a economia política clássica,
colocou-se na tarefa de resolver as principais contradições e insuficiências
notadas em Adam Smith e David Ricardo. Com isso pôde chegar às definições
científicas sobre o valor, dinheiro, capital e crises econômicas. Essa
monumental incursão resultou nos quatro volumes de O Capital. A determinação
de Marx em compreender os mecanismos centrais de produção e reprodução da
sociedade fez com que se tornasse um dos principais teóricos das ciências
humanas. Essa postura inspirou Engels em seu
Discurso diante do túmulo de Karl Marx:
Era, assim, um homem de ciência. Mas isto
não era sequer metade do homem. A ciência era para Marx uma força
historicamente motora, uma força revolucionária. Por mais pura alegria que ele
pudesse ter com uma nova descoberta, em qualquer ciência teórica, cuja aplicação
prática talvez ainda não se pudesse encarar - sentia uma alegria totalmente
diferente quando se tratava de uma descoberta que de pronto intervinha
revolucionariamente na indústria, no desenvolvimento histórico em geral.
Seguia, assim, em pormenor o desenvolvimento das descobertas no domínio da
eletricidade e, por último, ainda as de Mare Deprez. (ENGELS, 2018, pp.
367-368).
Vejamos
então, de forma mais cuidadosa como Marx entendia a sociedade, suas
contradições e a própria a produção científica.
Sobre o método materialista dialético de Marx
Na
exposição de sua forma de análise e produção científica, Marx, no texto O método da Economia Política (1857),
expôs como aplicava o seu método materialista, histórico e dialético. Apontou
que a economia política clássica trouxe avanços importantes na forma de analisar
a realidade social. No entanto, segundo Marx, os teóricos dessa corrente
analítica, sobretudo Smith e Ricardo, embora tivessem estabelecido categorias
que buscavam apreender as relações produtivas, como relações materiais e
concretas da realidade, ainda trabalharam com generalizações demasiado
abstratas que prejudicavam as definições mais precisas. Com tipificações
gerais, não se podia explicar satisfatoriamente como se desenvolviam as
principais contradições, relações sociais de produção, distribuição e
reprodução da vida humana e no mundo. De acordo com o autor:
Quando estudamos
um dado país do ponto de vista da Economia Política, começamos por sua
população, sua divisão de classes, sua repartição entre cidades e campo, a orla
marítima; os diferentes ramos da produção, a exportação e a importação, a
produção e o consumo anuais, os preços das mercadorias, etc. Parece que o
correto é começar pelo real e pelo concreto, que são a pressuposição prévia e efetiva;
assim, em Economia, por exemplo, começar-se-ia pela população, que é a base e o
sujeito do ato social de produção como um todo. No entanto, graças a uma
observação mais atenta, tomamos conhecimento de que isso é falso. A população é
uma abstração se desprezarmos, por exemplo, as classes que a compõem. Por outro
lado, estas classes são uma palavra vazia de sentido se ignorarmos os elementos
que repousam, por exemplo: o trabalho assalariado, o capital, etc. Estas
pressupõem a troca, a divisão do trabalho, os preços, etc. O capital, por
exemplo, sem o trabalho assalariado, sem o valor, sem o dinheiro, sem o preço,
etc. não é nada. (...). (MARX, 1974, p. 122).
Para
Marx, a forma como a economia política clássica analisava a sociedade conduzia
a uma visão caótica do todo. Não explicitava as relações intrapopulacionais
como relações que compõem um todo estruturado em uma série de relações: uma
totalidade concreta formada por múltiplas determinações e contradições. Para o
autor, o correto seria partir de uma visão da totalidade social, produtiva,
econômica e política, mas, dentro dessa totalidade, analisar as especificidades
que a compõe, intentando compreender de forma mais precisa possível a “rica
totalidade de determinações e relações diversas”. A análise deveria então
proceder do geral para o particular, e do particular para o geral.
(...) Assim, se
começássemos pela população, teríamos uma representação caótica do todo, e
através de uma determinação mais precisa, através de uma análise, chegaríamos a
conceitos cada vez mais simples; do concreto idealizado passaríamos a
abstrações cada vez mais tênues até atingirmos determinações mais simples.
Chegaríamos a este ponto, teríamos que voltar a fazer a viagem de modo inverso,
até dar de novo com a população, mas desta vez não com uma representação
caótica do todo, porém com uma rica totalidade de determinações e relações
diversas. (...). (MARX, 1974, p. 122).
Para o autor,
o método científico possibilita compreender as determinações abstratas que
balizam a reprodução do concreto por meio do pensamento: “o método que consiste
em elevar-se do abstrato ao concreto não
é senão a maneira de proceder do pensamento para se apropriar do
concreto, para reproduzi-lo como concreto pensado”. (MARX, 1974, p. 123). Destarte,
pode-se compreender que: “O concreto é concreto porque é síntese de muitas
determinações, isto é, unidade do diverso. Por isso, o concreto aparece no
pensamento como o processo de síntese, como resultado, não como ponto de
partida, ainda que seja o ponto de partida efetivo e, portanto, o ponto de
partida também da intuição e da representação”. (MARX, 1974, p. 122). Em vista
disso, as categorias científicas devem buscar apreender a gênese das relações
sociais concretas que organizam e reproduzem a vida humana:
A mais simples categoria econômica,
suponhamos, por exemplo, o valor de troca, pressupõem a população produzindo em
determinadas condições e também certos tipos de famílias, de comunidades ou
Estados. O valor de troca nunca poderia existir de outro modo senão como
relação unilateral, abstrata de um todo vivo e concreto já dado. (MARX, 1974,
pp. 122-123).
Sendo
assim, para Marx, a realidade social, como totalidade concreta composta por
sínteses multideterminadas, pressupõe uma:
(...) totalidade de pensamentos, como um
concreto de pensamentos, é de fato um produto do pensar, do conceber; não é de
modo nenhum o produto do conceito que pensa separado e acima da intuição e da
representação, e que se engendra a si mesmo, mas da elaboração da intuição e da
representação em conceitos. O todo, tal como aparece no cérebro, como um todo
de pensamentos, é um produto do cérebro pensante que se apropria do mundo do
único modo que lhe é possível, modo que se difere do mundo artístico, religioso
e prático-mental de se apropriar dele. (MARX, 1974, p. 123).
Posto
esse método de analisar a realidade social, todo conceito científico é uma tentativa
organizada de compreender e explicar de maneira mais precisa possível a
realidade social humana em movimento. No mesmo texto, Marx afirmava que “até as
categorias mais abstratas – precisamente por causa de sua natureza abstrata -,
apesar de sua validade para todas as épocas, são contudo, na determinidade
desta abstração, igualmente produto de condições históricas, e não possuem pela
validez senão para esta condições e dentro do limites desta". (MARX, 1974,
p. 126). Seguindo esta lógica, Marx chega a explicar passo a passo seu método
de análise da sociedade:
As seções a
adotar devem evidentemente ser as seguintes: 1º as determinações abstratas
gerais, que convém, portanto, mais ou menos a todas as formas de sociedade, mas
consideradas no sentido acima discutido; 2º as categorias que constituem a
articulação interna da sociedade burguesa e sobre as quais se assentam as
classes fundamentais. Capital, trabalho assalariado, propriedade fundiária. Os
seus relacionamentos recíprocos. Cidade e campo. As três grandes classes
sociais. A troca entre estas. A circulação. O sistema de crédito (privado); 3º
síntese da sociedade burguesa na forma do Estado. Considerando no seu
relacionamento consigo próprio. As classes “improdutivas”. Os impostos. A
dívida pública. O crédito público. A população. As colônias. A imigração; 4º as
relações internacionais de produção. A divisão internacional do trabalho. A
troca internacional. A exportação e a importação. A cotação do câmbio; 5º o
mercado mundial e as crises. (MARX, 1974, p. 128-129).
Na Contribuição à crítica da economia política (1859), Marx
explicitou que:
Examino o sistema da economia burguesa na
seguinte ordem: capital, propriedade, trabalho assalariado, Estado, comércio
exterior, mercado mundial. Sob os três primeiros títulos, estudo as condições
econômicas de existência das três grandes classes nas quais se divide a
sociedade burguesa moderna; a relação dos três outros títulos é evidente.
(MARX, 2008, p. 45).
Apenas a partir desse método foi
que Marx chegou à definição de que: “a anatomia da sociedade burguesa deve ser
procurada na Economia Política”. (Idem, p. 47). Ainda, segundo o autor, esse
método é imprescindível para se compreender o ser humano ativo na totalidade
social. Consequentemente, Marx sublinhava a importância da investigação
científica, analisando que:
Do mesmo modo que não se julga o indivíduo
pela ideia que de si mesmo faz, tampouco se pode julgar uma tal época de
transformações pela consciência que ela tem de si mesma. É preciso, ao
contrário, explicar essa consciência pelas contradições da vida material, pelo
conflito que existe entre as forças produtivas sociais e as relações de produção.
(MARX, 2008, p. 48).
No prefácio da segunda edição de O
Capital, escrito em 1873, Marx sublinhou que:
(...) A
investigação tem de se apropriar da matéria [Stoff] em seus detalhes, analisar suas diferentes formas de
desenvolvimento e rastrear seu nexo interno. Somente depois de
consumado tal trabalho é que se pode expor adequadamente o movimento
real. Se isso é realizado com sucesso, e se a vida da matéria é agora
refletida idealmente, o observador pode ter a impressão de se encontrar
diante de uma construção a priori.
Meu método dialético, em seus
fundamentos, não é apenas diferente do método hegeliano, mas
exatamente seu oposto. Para Hegel, o processo de pensamento, que
ele, sob o nome de Ideia, chega mesmo a transformar num sujeito
autônomo, é o demiurgo do processo efetivo, o qual constitui apenas a
manifestação externa do primeiro. Para mim, ao contrário, o ideal não é
mais do que o material, transposto e traduzido na cabeça do homem. (MARX,
2015, p. 90).
O exercício de compreender as
determinações reais da sociedade, que são projetadas como conceitos na cabeça
dos cientistas, não era entendido por Marx como coisa simples, como um caminho
pavimentado para uma nobreza percorrer tranquila e harmonicamente. No prefácio
à edição francesa de 1872, o autor alertava que “(...) Não existe uma
estrada real para a ciência, e somente aqueles que não temem a fadiga de
galgar suas trilhas escarpadas têm chance de atingir seus
cumes luminosos". (MARX, 2015, p. 93).
Materialismo histórico, ciências humanas e ciências exatas
Engels no trabalho intitulado Anti-Duhring, sintetizou muitas das
elaborações desenvolvidas ao longo de sua trajetória como produção científica. O
autor retomou as definições desenvolvidas em conjunto com Marx, segundo as quais
os conhecimentos científicos constituem síntese de processos reais da natureza
e da sociedade:
Os esquemas
lógicos só podem se referir a formas de pensar; nesse ponto, contudo, trata-se
apenas das formas do ser, do mundo exterior, e o pensamento jamais poderá tirar
nem derivar essas formas de si mesmo, mas precisamente só do mundo exterior.
Desse modo, a relação inteira se inverte: os princípios não são o ponto de
partida da investigação, mas o seu resultado final; eles não são aplicados à
natureza e à história humana, mas abstraídos delas; não são a natureza nem o
reino humano que se orientam pelos princípios, mas os princípios são corretos
só na medida em que estão de acordo com a natureza e a história. (ENGELS, 2015,
p. 66).
Posto isso, fica claro que os
esquemas explicativos não são idênticos à realidade, esses são formas externas
de apreensão do real, apresentadas como elaboração teórica. É a partir da
investigação dos processos reais, das suas causalidades e desenvolvimento, que
se chega a um produto como apreensão do real. Se pressupõe, é claro, que
mudando as bases fundamentais das condições sociais, econômicas ou políticas
modifica-se também os objetos de análise e logo, os resultados das
pesquisas. Reitera-se, aqui, que o conhecimento científico não é estacionário. Em
consequência disso, Engels, no trabalho Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, afirmava
que todo conhecimento social, toda forma científica, está sujeita a sofrer
alterações conforme se modifica a realidade. Em tal perspectiva, toda a ciência
é histórica.
Por conseguinte, o autor reafirma
a necessidade de se compreender o mundo não como um conjunto de objetos
acabados, “mas sim como um conjunto de processos”. Para Engels, uma coisa é
observar a realidade, outra, mais complexa, é explicá-la em suas determinações
e cadeias causais: “uma coisa é reconhecê-la em palavras, e outra é aplicá-la à
realidade em cada caso concreto, e em todos os campos submetidos à investigação
(...)”. (ENGELS, 1974). Para o autor, é preciso considerar: “(...) em todos os
momentos, a consciência de que todos os resultados que obtemos são forçosamente
limitados e se encontram condicionados pelas circunstâncias nas quais os
obtemos (...)”. (ENGELS, 1974, p. 85). Assim sendo, a ciência é compreendida
como apreensão, compreensão e produção de explicações do ser humano real sobre
si, sobre a natureza e sobre o próprio desenvolvimento histórico. (1974, p.
77).
Engels mantem-se como continuador
da perspectiva defendida por Marx em O método da economia política, no qual se
elucidou que todo resultado científico é produto de condições históricas
determinadas, o que implica que todos os resultados do conhecimento constituem
fruto de processos ininterruptos e em constante transformação. Segundo Engels:
(...) aquilo que
hoje consideramos verdadeiro encerra também um lado falso, oculto no momento,
mas que virá à luz mais tarde, do mesmo modo que aquilo que agora reconhecemos
como falso mantém seu lado verdadeiro, graças ao qual foi, anteriormente,
acatado como verdadeiro; que aquilo que se afirma necessário é composto de toda
uma série de meras casualidades, e que aquilo que se julga fortuito não é senão
a forma por trás da qual se esconde o necessário, e assim sucessivamente.
(ENGELS, 1974, p. 85-86).
Em contrapartida, no Anti-Duhring, Engels criticou a
perspectiva aplicada pelo professor Duhring que acreditava ter chegado a
soluções definitivas a partir de suas pesquisa. Uma das consequências dessa
crença, foi a despreocupação em buscar apreender os novos elementos e
desdobramentos que emergiam das constantes transformações sociais, bem como a
perspectiva de que já se esgotou a compreensão de determinado objeto pode levar
ao desprezo de resultados alcançados por outros pesquisadores:
(...) O sr. Dühring, pelo contrário,
oferece-nos frases, declarando que são verdades definitivas de última
instância, ao lado das quais, portanto, qualquer outra opinião de saída é
falsa; assim como dispõe da verdade exclusiva, ele também possui o único método
rigorosamente científico de investigação, ao lado do qual todos os outros não
são científicos. (ENGELS, 2015, p. 59).
Para Engels, o problema em tal
postura é que: "Quando se está em poder da verdade definitiva de
última instância e da única cientificidade rigorosa, obviamente se deve nutrir
pelo restante da humanidade equivocada e não científica uma boa dose de
desprezo (...)”. (ENGELS, 2015, p. 59).
Na perspectiva de Engels, o
pesquisador necessita então investigar as causas sociais desdobradas nos
processos sociais e colocar-se a tarefa de discutir com outros resultados
relevantes encontrados por outros pesquisadores, compreendo-os profundamente,
apontado seus avanços e suas limitações, e se necessário refutá-los, apresentando
novos resultados para serem considerados, testados e mesmo contestados (se for
o caso). Foi essa a forma utilizada por Marx e Engels em discussão com os
socialistas utópicos, com o idealismo hegeliano, com a economia política
clássica e com os anarquistas durante o século XIX.
Naturalmente, sublinha Engels, nem
todos os fatos podem realmente ser contrapostos. Existem pessoas vivas e
mortas, a água, em determinadas condições de pressão e temperatura, pode se
encontrar em estados líquido, sólido ou gasoso, podemos conhecer o mosquito que
transmite a doença “X” ou “Y”, existem proprietários de terras e não
proprietários, patrões e assalariados. A realidade é o substrato da ciência,
mudando a realidade teremos novos substratos para produção científica.
Engels exemplifica que até mesmo:
“(...) Os conceitos de número e figura não são tirados de nenhum outro lugar
senão do mundo real. Os dez dedos que os seres humanos usam para contar, com os
quais aprenderam a realizar a primeira operação aritmética, são tudo menos
criação livre do entendimento. (ENGELS, 2015, p. 69). Ou seja, todas as
derivações científicas retratam processos advindos de determinadas condições sociais
e históricas. Por isso, a investigação científica deve tomá-las como processos
em movimento, não como objetos estáticos, mas sim como processos que
transformam constantemente tanto a problemática investigada como o pesquisador
que a investiga. De acordo com o autor:
(...) Se a humanidade alguma vez chegasse
a operar só com verdades eternas, com resultados do pensamento que tivessem
pretensão incondicional à verdade, ela atingiria o ponto em que teria sido
levada a cabo, em termos tanto de realidade como de potencialidade, a
infinitude do mundo intelectual e, desse modo, o tão afamado milagre da
enumeração do inumerável. (ENGELS, 2015, p. 119).
A partir de tais análises,
considera que toda forma científica, tanto as matemáticas, biológicas ou
humanas, são formas de abstração da realidade social e estão sujeitas a terem
seus resultados reconsiderados à luz de novas condições históricas. São
aspectos da realidade corporificados em abstrações para compreensão do real. Essas
podem e devem chegar a conclusões muito precisas da realidade, mas mesmo estes
resultados são passíveis de serem revisados e ampliados. Para o autor, nem
mesmo a matemática pura pode ser tomada “como ciência independente do mundo da
experiência”. Basta considerar que: "(...) As representações de linhas,
superfícies, ângulos, polígonos, cubos, esferas etc. são todas tomadas de
empréstimo da realidade (...)”. (ENGELS, 2015, p. 71).
Por consequência, para além das
ciências exatas e biológicas, de forma mais radical e profunda, a mesma regra é
valida para as ciências históricas (ciências sociais ou ciências humanas). Essas
investigam e propõem-se a compreender a movimentação dos seres humanos ao longo
de suas relações históricas e transformações sociais, como se organizam,
produzem e reproduzem as suas próprias condições de existência em meio às
herança histórica, econômica e política.
Recordemos que, no trabalho Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia
clássica alemã, Engels também afirmava que não se trata de inventar
interligações artificiais entre as relações sociais e as problemáticas
investigadas, mas sim de buscar descobrir as múltiplas relações reais da
sociedade. Para isso, se fazia necessário desvendar as ligações entre o
particular e o universal. Conceber as inter-relações do objeto estudado com as
“leis gerais do movimento que se impõem, como dominantes, na história da
sociedade humana”. (ENGELS, 1974, p. 91). A perspectiva de Engels está em
consonância direta com a concepção de Marx, segundo a qual “se aparência e
essência coincidissem, não seria necessária a ciência”. Engels reafirma tal prerrogativa
analítica afirmando que “onde, na superfície das coisas, parece reinar a
casualidade, esta é sempre governada por leis internas ocultas, e o que é
necessário é descobrir tais leis” (Idem, p. 93). Trata-se então de buscar
investigar as causas determinantes dos fenômenos em processo.
As conclusões de científicas de
Marx, construídas desde A ideologia alemã,
passando pelo Manifesto Comunista, o Método da economia política e O capital, e as elaboradas por Engels desde
a juventude até o Anti-During, permanecem
sustentáveis, uma vez que à luz da história, pode-se comparar a transformação
dos diversos resultados de pesquisas científicas, de diversas áreas de
investigação, ao longo de séculos de pesquisas. No entanto, isso não quer dizer
que não se pode chegar a conclusões precisas. Segundo Engels:
Mas existem mesmo verdades tão firmemente
estabelecidas que qualquer dúvida a respeito delas parece significar o mesmo
que loucura? Por exemplo, que dois mais dois é igual a quatro, que os três
ângulos de um triângulo são iguais a dois ângulos retos, que Paris fica na
França, que um ser humano sem alimento morre de fome etc.? Portanto, existem
mesmo verdades eternas, verdades definitivas de última instância? Claro
que sim. (...)". (ENGELS, 2015, p. 119).
Ainda que se possa propor revisões
sobre teorias ou aspectos teóricos, é com a vida real que a ciência tem que se
explicar. Não é a simples declaração de algum autor que determina se a história
continua ou não existindo, ou se duas classes sociais fundamentais estruturam
ou não a realidade social. Não se refuta conclusões científicas com opiniões
aleatórias. Para se contrapor uma definição científica é necessário propor
novas análises, interpretações e materiais que possam ser testados para superá-la.
Conforme Marx definiu na 2ª tese ad
Feuerbach,
A questão de saber se ao pensamento humano
cabe alguma verdade objetiva [gegenständliche
Wahrheit] não é uma questão da teoria, mas uma questão prática. É na prática que o homem tem de provar a verdade, isto é,
a realidade e o poder, a natureza citerior [Diesseitigkeit]
de seu pensamento. A disputa acerca da realidade ou não realidade do pensamento
– que é isolado da prática – é uma questão puramente escolástica. (MARX, 2007, p. 533).
Por conseguinte, todas as
formulações de Marx e Engels sobre a ciência e a produção científica são também
aplicáveis à produção desses mesmos autores. Os resultados das pesquisas e formulações
de Marx e Engels foram e continuam sendo debatidos, testados, contestados,
reafirmados e aprofundados, como por exemplo, nas análises filosóficas ou
estéticas de György Lukács, nas produções sobre o capital financeiro de Rudolf Hilferding
e John Hobson, ou nas elaboração teórico-políticas de Vladimir Lênin e Leon Trotski
que também desenvolveram e aperfeiçoaram a teoria do imperialismo, analisando
como a partir do final do século XIX abriu-se uma nova época do capitalismo,
marcada pelos monopólios e nações imperialistas. Outro exemplo é o das
revoluções no século XX, que levaram a diversas formulações e aprofundamentos
acerca da teoria da revolução, teoria do Estado, economia planificada,
monopólio do comércio exterior etc. Os estudos e pesquisas científicas
foram parte estruturantes dos novos avanços.
Considerações finais
Por conclusão, desta breve
incursão em busca de delimitações científicas estabelecidas por Marx e Engels,
podemos definir que é possível conhecer a realidade em suas determinações,
quando aconteceu a Primavera dos Povos, quais foram os principais beneficiados
neste processo, em que condições econômicas viviam, quais as principais ideias
e correntes determinantes, bem como as principais lições históricas no campo da
teoria política e da estratégia revolucionária. A compreensão científica desses
processo possibilitam produzir novas concepção para a ação social e para novos
ciclos de transformação da realidade. Isso vale para a Comuna de Paris, para as
revoluções proletárias na Rússia de 1905, 1917 e também para o período
stalinista.
Podemos descobrir os principais
motivos e consequências da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial,
do fascismo, do nazismo, da restauração capitalista na antiga URSS, da crise
estrutural do capitalismo dos anos 1970 etc. É a partir de investigações
sociais que podemos saber quais forças políticas, econômicas e sociais eram
representadas por Mussolini na Itália, bem como quais grupos e motivações
sustentaram o governo de Hitler, ou as determinações das últimas crises
econômicas internacionais.
A determinação que se coloca no
campo da investigação científica é que a realidade concreta é produto de
condições históricas, por isso o critério da precisão científica é a própria
realidade social e não o cérebro do pesquisador, seu caderno de notas ou seus
artigos e livros publicados. Ainda, novos fatos, materiais e processos podem
lançam luzes que permitem apreender novos problemas, aprofundar análises e
chegar a novos resultados, ampliando assim a gama de conhecimento da humanidade
em sua marcha histórica complexa. Então, em todo caso, a ciência é um caminho
para compreender e explicar a materialidade em seu movimento infinito.
REFERÊNCIAS
ENGELS,
F. Dialética da natureza.
Boitempo. São Paulo. 2020.
_______.
Discurso diante do tumulo de Karl Marx. In: Germinal:
Marxismo e Educação em Debate, Salvador, v. 10. 2018.
______. Anti-Duhring. Boitempo. São Paulo. 2015.
______
Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. In: Karl Marx e
Friedrich Engels – textos filosóficos. Editora Presença. Lisboa. 1974.
______. Do socialismo utópico ao socialismo científico.
Editora Global. 1981.
GRAMSCI,
A. Cadernos do cárcere. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.
KOSIK,
K. Dialética do Concreto. Paz e
Terra, Rio de Janeiro, 1973.
LUKÁCS,
Georg. As Bases Ontológicas do
Pensamento e da Atividade do Homem. Temas de Ciências Humanas n. 4. Tr.
C.N. Coutinho, São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, 1978.
MANDEL, E.
A Formação do Pensamento Econômico de
Karl Marx. Zahar, 1968.
MARX,
K. Diferença entre a filosofia da
natureza de Demócrito e a de Epicuro. Boitempo. 2018.
______. Contribuição à crítica da economia política.
Editora Expressão popular. 2008. SP.
______.
Teses ad Feuerbach. In: A ideologia alemã.
2007.
______. Manuscritos Econômico-Filosóficos.
Editora Boitempo: São Paulo, 2004.
______. O Capital. Vol I. Boitempo, São Paulo.
2015.
______. O
método da economia política. In: Os
pensadores. Victor Civita. 1974. Abril.
MARX, K e
ENGELS: A ideologia alemã. 2007.
_____ Manifesto comunista. Boitempo. São
Paulo. 2005.
MOURA, A. Educação
em Marx: formação da consciência, escola
e luta de classes. Artigo no prelo. 2022.
______. A ruptura de Marx com Hegel: Crítica da
filosofia do direito de Hegel. In: Filosofia
política, conhecimento e educação. CHAGAS, F. et ali. Editora Fi, 2020. pp.
30-59.
______. Marx antes do marxismo - Diferença entre as
filosofias da natureza em Demócrito e Epicuro (1841). In: Esquerda diário.
2016. Disponível: https://www.esquerdadiario.com.br/Marx-antes-do-marxismo-Diferenca-entre-as-filosofias-da-natureza-em-Democrito-e-Epicuro-1841
RICARDO,
D. Princípios de Economia Política e
Tributação. Abril cultural. 1982.
RUBIN. I. História do Pensamento Econômico. UFRJ.
2013.
SMITH, A. A riqueza das nações. Editora F.S. 2010.
[1] Professor convidado no Programa de Pós-graduação da PUC-SP.
Pós-doutorando em história econômica pela USP. Doutor em ciências sociais pela
Unesp-Marília. Estudioso da obra de Marx, marxismo, movimento operário e
revoluções.
[2] Esse livro foi redigido entre 1873-1886, mas a sua elaboração foi
interrompida porque Engels foi convencido a preparar e publicar outro livro, o Anti-Dühring. No entanto, muitas das
conclusões da Dialética da natureza
foram expostas na obra requerida. Isso, somado à tarefa de editar os livros
inéditos d’O capital, provavelmente desestimulou
ou impediu Engels de concluir a Dialética
da natureza, que só foi publicada postumamente em 1925. C.f. Engels, 2020.

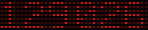












 14:24:00
14:24:00
 Alessandro de Moura - Doutor em Ciências Sociais pela UNESP/Marília - alessandromouracs@yahoo.com.br.
Alessandro de Moura - Doutor em Ciências Sociais pela UNESP/Marília - alessandromouracs@yahoo.com.br.











